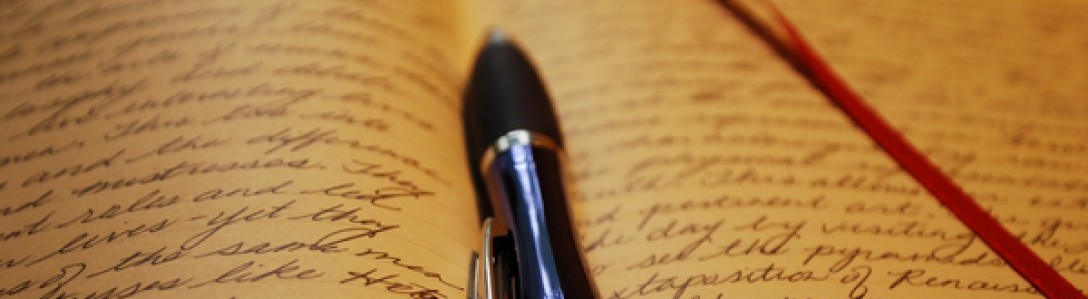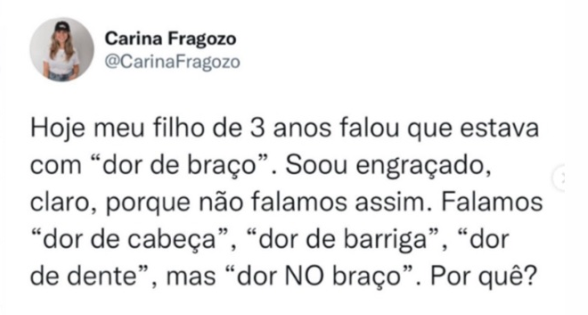ALERTA: se você não tem paciência para ler textos longos, desconsidere esta postagem.
Na semana passada, publiquei aqui neste blog uma crítica ao linguista Marcos Bagno por suas ideias equivocadas sobre o ensino da norma-padrão e sobretudo por sua reação destemperada e incivilizada contra um de seus críticos, o gramático Fernando Pestana, que, como eu, também aponta os erros metodológicos, incoerências e contradições de suas propostas e atitudes. Como resultado, recebi muitos comentários, tanto de apoio quanto de discordância à minha crítica, e é a estes últimos que quero responder aqui para tornar mais clara a minha posição.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer a diferença entre dois conceitos que são frequentemente confundidos e por vezes utilizados um pelo outro, que são norma-padrão e norma culta.
A norma-padrão, preconizada pela gramática normativa, é o modelo de uso da língua que deve ser adotado na redação de textos formais, como livros, jornais, documentos, contratos, relatórios, manuais, textos acadêmicos, jurídicos, técnicos, etc. Portanto, é um modelo sujeito a normatização (como, de resto, muitas atividades profissionais estão igualmente sujeitas a normas técnicas, algumas até com poder de lei) justamente para garantir a intercomunicação eficiente e não ambígua em atividades profissionais e oficiais.
Já a norma culta é o conjunto dos usos linguísticos das pessoas de maior escolaridade, tanto falados quanto escritos, tanto formais quanto informais, isto é, coloquiais. E é importante frisar que as pessoas cultas em geral não escrevem do mesmo modo como falam; mesmo ao escrever num registro mais informal (como num e-mail a um amigo), evitam construções como “pra mim fazer”, “vamo se encontrar”, “eu tava”, “dez real”, etc., que normalmente usam em sua fala cotidiana.
A questão é que Bagno critica a atual norma-padrão da língua portuguesa (o que, por sinal, eu às vezes também faço, mas não pelas mesmas razões que ele), e até prega que não se a ensine nas escolas, com base numa definição dessa norma que não corresponde à realidade. Para Bagno, a norma-padrão é uma linguagem artificial e idealizada, baseada nuns poucos escritores de ficção de maior prestígio, sobretudo do passado e sobretudo lusitanos. Para ele, os gramáticos escolhem arbitrariamente alguns autores tidos como exemplares e, mesmo assim, selecionam apenas certos usos desses autores, deixando outros de lado. Portanto, os gramáticos seriam uma espécie de ditadores da língua, que impõem determinados padrões de maneira totalmente arbitrária e segundo seus caprichos pessoais. De fato, alguns gramáticos fazem isso — ou melhor, fizeram, pois escreveram suas gramáticas há quase 100 anos, numa era pré-científica, e já estão todos mortos.
Atualmente, as gramáticas normativas são elaboradas seguindo uma metodologia própria e rigorosa, que se baseia em textos escritos formais de ficção e também de não ficção (acadêmicos, jurídicos e jornalísticos, dentre outros) sobretudo dos últimos 50 anos (portanto, a partir de aproximadamente 1970). Além disso, as gramáticas normativas só abonam usos que estejam efetivamente disseminados na escrita culta e formal, isto é, ocorram com frequência significativa o suficiente para que se possa atestar que já fazem parte do português escrito formal contemporâneo. Isso significa que, mesmo que um contrato redigido por um advogado mal escolarizado contenha coisas como “se o interessado propor” ou “quando houverem as negociações”, isso não entrará na norma-padrão, pois, por enquanto (pode ser que no futuro mude), é um desvio devido à má formação escolar e não um uso generalizado pelas pessoas cultas em seus textos profissionais.
O fato é que Bagno se insurge contra uma gramática normativa que só existe em sua cabeça; ele desconhece o processo sério, metódico e criterioso como são elaboradas as modernas gramáticas normativas e as ataca a partir de uma visão equivocada e preconcebida do que sejam elas. Além disso, ele comete um erro metodológico grave a alguém que tem formação acadêmica ao tomar como uso corrente na escrita formal construções que fazem parte da norma culta falada, mas não da escrita, e ao propor que essas construções sejam incorporadas à norma-padrão. Criticando os gramáticos por serem, em sua visão, arbitrários, ele é que é arbitrário ao querer estabelecer, segundo critérios em grande parte pessoais, uma nova norma, que não corresponde ao uso efetivo que fazem as pessoas cultas ao redigir textos profissionais ou oficiais.
Alguns dos comentários que recebi afirmam que a gramática de Bagno não é normativa, é descritiva e pedagógica. E que é uma referência internacional em matéria de língua portuguesa. Primeiramente, e é preciso ser justo, a gramática de Bagno faz uma boa descrição do português brasileiro contemporâneo falado e escrito e é útil aos estudos sobretudo do português falado. Mas, quando se trata de descrever o português escrito formal, ela falha fragorosamente, atestando, contra todos os dados empíricos disponíveis, usos que não são correntes nesse registro e nessa modalidade. Além disso, essa gramática não é acadêmica, voltada exclusivamente aos estudiosos do idioma, e sim pedagógica, portanto um guia sobre o que os professores do ensino básico devem ou não ensinar. E ele prega que não se ensine mais a diferença entre este e esse, que se chancele o uso de “eu vi ela”, “existe muitas pessoas”, “aconteceu várias coisas”, e assim por diante.
Em segundo lugar, Bagno sustenta que se adote a norma culta (falada e escrita, bem entendido), isto é, o uso linguístico dos mais escolarizados, como parâmetro para uma nova norma-padrão. Ao mesmo tempo, ele fala o tempo todo na necessidade de promover a inclusão social dos menos favorecidos por meio da linguagem. Só que, do ponto de vista dos menos favorecidos, essa norma culta é tão elitista quanto a norma-padrão oficial, pois, embora contemple a não distinção entre este e esse, ainda está muito distante da língua dos excluídos, das periferias, em que o padrão é “nós foi”, “a gente somos” e “pobrema”. Aliás, teríamos de abonar também os erros de pontuação, como, por exemplo, separar sujeito de predicado por vírgula, e de ortografia, já que a inclusão por meio da linguagem tem de ser total e não apenas gramatical.
Na verdade, o que se critica em Marcos Bagno, além de seus inadmissíveis erros metodológicos, é uma postura militante, que mistura ciência com política e prega uma determinada pedagogia da língua portuguesa calcada em pressupostos de justiça social e emancipação dos menos favorecidos — o que é uma causa, sem dúvida, muito justa —, porém alicerçada em certos dogmas que não condizem com a realidade. Como respondi a uma professora que me escreveu, é preciso levar educação de verdade a quem não tem acesso a ela, pois só assim esses brasileiros serão emancipados, conquistarão a verdadeira cidadania, e o Brasil se desenvolverá, tornando-se um grande país e não apenas um país grande, como é hoje. Só que a proposta de Bagno é exatamente o contrário disso: é nivelar por baixo, rebaixando a norma-padrão ao nível do linguajar dos menos escolarizados. Fazendo uma analogia com a economia, é como, em vez de lutar para que todos sejam ricos, almejar um país em que todos sejam iguais na pobreza.
Será que, se as gramáticas normativas passassem a abonar “eu vi ela”, e, portanto, por um mero truque de manipulação da norma, o linguajar dos botequins passasse a ser considerado aceitável em textos formais, isso emanciparia os mais pobres, isso lhes abriria portas no mercado de trabalho, isso tornaria o Brasil um país desenvolvido e menos desigual?
Outro argumento é o de que é preciso conhecer o Brasil em sua diversidade linguística, o Brasil profundo, de escolas públicas sucateadas e violentas, de professores desassistidos, e, portanto, é preciso empregar uma sociolinguística educacional que funcione na prática. Que o aluno precisa de fato dominar a gramática normativa, mas que, para tanto, há etapas nessa construção. O que isso quer dizer? Que devemos no ensino fundamental ensinar que é correto escrever “eu vi ela” num trabalho escolar para só no ensino médio explicar que o correto é “eu a vi”? Devemos então reforçar a variedade que o aluno traz de casa — porque dizer que ele fala “errado” é preconceito linguístico, causa evasão escolar, afeta a autoestima do aluno, etc. — para, só quando essa variedade já estiver petrificada, revelar-lhe que, escrevendo assim, ele jamais conseguirá um emprego decente?
Também se argumenta que é preciso respeitar a linguagem do aluno, como de resto a de todas as pessoas, por menos letradas que sejam, o que é verdade e um princípio de civilidade. Mas respeitar não é o mesmo que considerar correto e aceitável em situações formais, especialmente acadêmicas e profissionais.
Não sou contra o ensino da variação linguística nas escolas, pois o próprio Evanildo Bechara, um dos gramáticos normativos a quem Bagno torce o nariz, afirma que temos de ser “poliglotas em nossa própria língua”, isto é, saber em que momento empregar a norma-padrão e em que momento não. Mas é preciso ter em mente que é a norma-padrão em vigor, mesmo com todas as críticas que possamos ter a ela, que liberta, emancipa e confere verdadeira cidadania. Portanto, é preciso tornar o estudante proficiente nela desde o primeiro momento em que pisa na escola. Eu, por exemplo, não estaria redigindo este texto se não dominasse essa norma.
Uma coisa que constato — e acho que não sou só eu — é que o domínio da língua culta pelas pessoas escolarizadas é cada vez menor (estão aí os resultados do PISA que não me deixam mentir). Antigamente, a maioria das pessoas que tinham acesso à educação formal — e que eram relativamente poucas — frequentava a escola pública (por incrível que possa parecer aos mais jovens, a escola privada abrigava aqueles que não se saíam bem no ensino público) e lá aprendia Língua Portuguesa desde os primeiros anos pela gramática tradicional (ninguém havia ouvido falar em linguística naquela época); essas pessoas, no entanto, tinham uma proficiência muito maior no português culto do que os jovens de hoje, educados pela moderna pedagogia variacionista. Penso que o problema da educação em nosso país não está propriamente no modelo teórico adotado, está nas drogas, na violência, no desrespeito ao professor, nos baixos salários dos profissionais da educação, no desinteresse dos pais pela educação dos filhos, na falta de infraestrutura das escolas, na falta de uma política educacional de Estado e não só de governo…
Outro argumento muito usado por Bagno é o de que o ensino de ciências é constantemente atualizado à medida que o próprio conhecimento científico avança. Por isso, não se ensina mais nas escolas que a Terra é o centro do Universo nem que animais surgem por geração espontânea. Enquanto isso, ensina-se gramática hoje do mesmo modo como se ensinava há 2.300 amos. De fato, concordo que deveríamos substituir as definições e a nomenclatura da gramática tradicional pelos modernos conceitos e terminologia da ciência linguística. Só que a gramática não é uma ciência, é uma normatização da linguagem formal escrita, portanto não está necessariamente obrigada a atualizações, embora as faça periodicamente. Há no Congresso Nacional uma norma antiquíssima determinando que parlamentares do sexo masculino são obrigados a trajar terno e gravata em suas dependências. Pode-se argumentar que a moda mudou muito desde que essa exigência foi estabelecida, que hoje em dia as pessoas vão de bermudas e chinelos aos mais diversos lugares e que, portanto, essa norma é obsoleta. No entanto, a obrigatoriedade do traje social no Congresso continua independentemente de qualquer mudança no estilo de vestir das pessoas comuns porque normas são normas e não ciências. O objetivo do ensino de gramática não é inculcar no aluno definições ou termos técnicos, é torná-lo proficiente na redação e leitura de textos formais. Definições e termos são um meio de aprendizagem e não um fim em si, portanto, para tal propósito, a NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) tem funcionado tão bem quanto a terminologia linguística.
Ao contrário de muitos de meus colegas, não sou ideológico, sou pragmático, portanto defendo aquilo que comprovadamente funciona. Por não ser ideológico, não me apego a doutrinas e agendas políticas, mas sim a fatos concretos, comprováveis cientificamente. Logo, não sou dogmático, não me arvoro em dono da verdade e tenho o espírito aberto a revisar meus conceitos e opiniões desde que seja convencido por argumentos sólidos, sobretudo os baseados em dados colhidos por metodologia científica rigorosa. Qualquer um que tenha estudado com afinco uma disciplina chamada Metodologia Científica, indispensável na formação de qualquer pesquisador e obrigatória a quem faz mestrado ou doutorado, sabe que a obra acadêmica de Bagno é eivada de erros metodológicos, muitos deles propositais, que, como tenho assinalado, decorrem da interferência de sua agenda político-ideológica num trabalho que, por sua própria natureza científica, deveria ser neutro e objetivo. E é principalmente aos seus erros metodológicos e à sua pregação política baseada nesse viés que eu me oponho. Não sou intransigente como certos radicais que colocam suas ideologias, crenças e cartilhas acima da realidade fática nem sou arrogante, como disse aquela mesma professora, quando afirmo que Bagno divulga uma versão deturpada da linguística, pois a verdadeira linguística, como ciência que é, não faz juízos de valor, não milita em favor desta ou daquela causa social, por mais justa que seja, porque não é sua função, e essa postura pode até comprometer a validade do conhecimento que produz. Aliás, por sua condição metodológica de neutralidade e imparcialidade, a ciência não pode defender pautas políticas, sejam de esquerda ou de direita. Ou a ciência é apolítica ou não é ciência.
Tampouco sou a favor do linchamento moral (ou, como dizem hoje, do “cancelamento”) de quem quer que seja, pois é exatamente isso que fazem os radicais; de certa forma, é isso que o próprio Marcos Bagno faz contra os gramáticos normativos. O que faço é uma crítica fundamentada a uma descrição linguística falha e a uma proposta pedagógica equivocada. Minha questão não é pessoal, por isso mesmo não chamo meus opositores de calhordas nem dou carteirada neles.
É evidente que Marcos Bagno continuará sua pregação defendendo o indefensável e seguirá tentando legitimar sua metodologia e suas conclusões, assim como é evidente que seus admiradores continuarão a apoiá-lo incondicionalmente, pois ideologia é algo tão arraigado nas pessoas que é quase impossível mudar. Àqueles que dizem não ser seguidores cegos de Bagno e que reconhecem nele erros e acertos, eu digo que também aí me incluo: não faço tabula rasa da sua competência profissional, nunca afirmei que tudo o que ele diz é bobagem nem prego a sua desmoralização, mas, na vida acadêmica, em que se debatem ideias e fatos, todos estamos sujeitos a críticas (algumas às vezes até sem fundamento) e devemos rebatê-las com argumentos robustos ou, na falta deles, aceitá-las com humildade, sem rompantes de agressividade e destempero verbal.
Uma última consideração: apesar de toda essa celeuma, as pessoas continuam tentando escrever o mais próximo da gramática normativa que conseguem, e os gramáticos continuam fazendo seu trabalho sem dar a menor bola para o que diz Marcos Bagno. Os cães ladram, e a caravana passa.
Perdoem-me a prolixidade, mas espero ter sido claro.